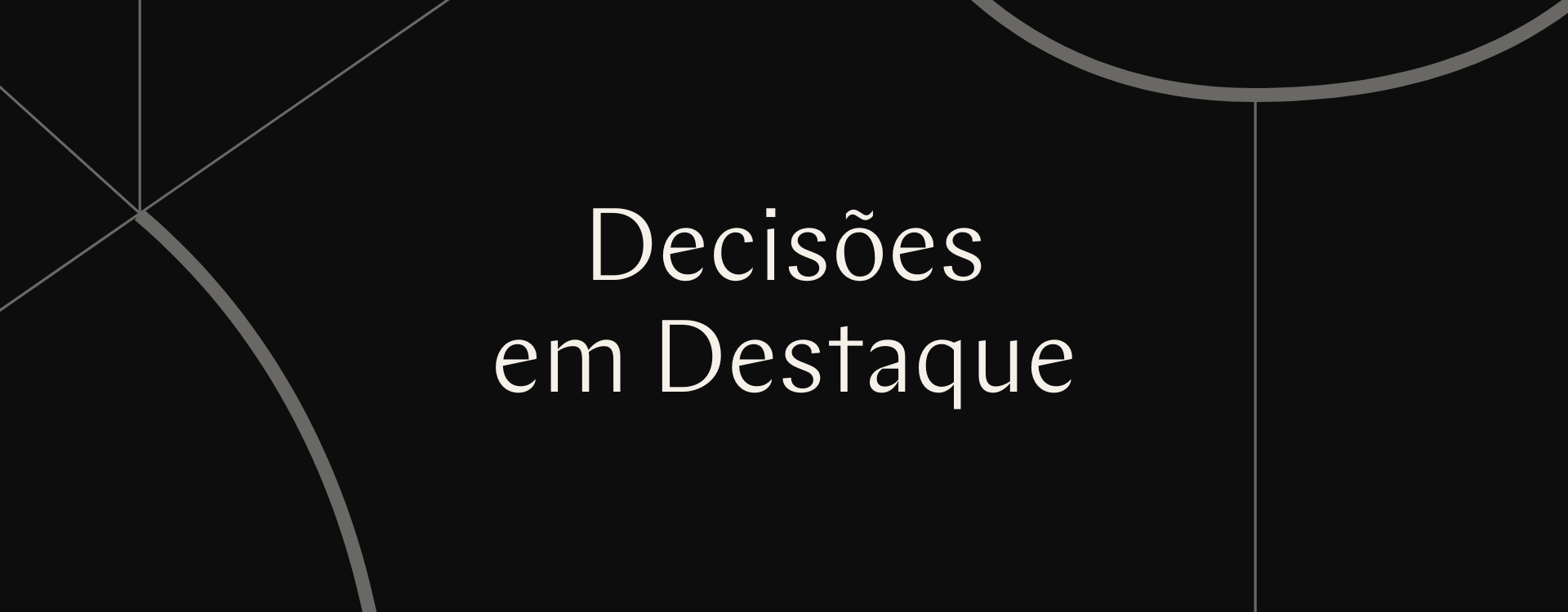Os novos ares processuais da responsabilidade civil por danos morais
A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o Código de Processo Civil (CPC), representa uma grande aposta em um novo modelo de litigância. O processo civil passou, desde o seu advento, a valorizar, dentre outros aspectos, a cooperação entre os sujeitos da relação jurídica processual, a solução adequada de conflitos – não necessariamente centrada na autoridade judiciária – e a efetividade do processo, que assume, definitivamente, o seu papel de instrumento, pondo fim a não raros devaneios doutrinários que reconheciam o processo, ainda que veladamente, como uma realidade autônoma com um fim em si mesmo. O primeiro grande contributo do novo diploma é, portanto, a clareza dessa mensagem: o processo vive pela e para a matéria.
Na esteira dessa mudança de filosofia, a responsabilidade civil recebeu uma alteração significativa, trazida pelo art. 292 do CPC, que assevera que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido. O sutil enunciado esconde uma verdadeira revolução, que se presta a superar um modelo falido de litigância sem limites, de liberdade sem responsabilidade, que abria as portas para o exercício abusivo do direito de ação.
Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), o valor da causa nas ações indenizatórias não encontrava guarida no rol do art. 259, mas na regra geral do art. 258, que dispunha: “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”. Tal abertura não representava, a priori, grandes problemas práticos, na medida em que o valor da causa refletiria o valor pretendido a título de indenização. Contudo, as particularidades da pretensão de indenização por danos morais, notadamente a sua extrapatrimonialidade, levaram a práxis à seguinte orientação: não sendo aferível o conteúdo econômico do dano, pelo menos imediatamente, em razão da sua natureza, realizava-se um pedido genérico de condenação e de quantificação da indenização por arbitramento. Utilizava-se a consagrada expressão: “requer-se a condenação do promovido em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência”, constante dos pedidos nos processos que passaram a se amontoar nos tribunais. Somem-se a isso os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, regra que reduzia o risco da litigância a zero para o autor, e teremos o mais convidativo ambiente para a litigância desenfreada. Aliás, esse gargalo da gratuidade não mudou com o CPC.
A discussão em torno da “indústria do dano moral” marcou as últimas duas décadas, quando restaram claras as fragilidades do diploma processual anterior. Isso ensejou, inclusive, uma atuação mais enfática do Superior Tribunal de Justiça (STJ): por exemplo, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, em seu relatório no REsp nº 504.639/PB, consignou a preocupação daquele Tribunal com a contenção da litigância por danos morais. Na ementa consta: “a indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada ‘indústria do dano moral’”. Mais tarde, a Terceira Turma do STJ chegaria ao extremo de declarar o caráter secundário da técnica em prol da referida contenção:
Esta Corte, cuja missão é uniformizar a interpretação do direito federal, há alguns anos começou a afastar o rigor da técnica do recurso especial para controlar o montante arbitrado pela instância ordinária a título de dano moral, com o objetivo de impedir o estabelecimento de uma “indústria do dano moral”.1
No âmbito do CPC/1973, a formulação genérica do pedido de condenação por danos morais encontrava guarida no art. 286, II, que excepcionava a exigência de certeza e determinação do pedido quando não fosse “possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito”. Neste ponto, o atual CPC é mais sistemático. Primeiro, retira todas as dúvidas por ventura deixadas pela redação do art. 286 do CPC/1973, cujo caput exigia que o pedido fosse certo ou determinado, quando, na verdade, os requisitos da certeza e da determinação devem ser cumulativos, não alternativos. Essa orientação de cumulatividade dos requisitos já havia se consolidado na doutrina e na jurisprudência, mas o CPC andou bem ao arrematar a questão também no plano legislativo. Segundo, ao tratar sobre tais características em artigos separados (“certeza” no art. 322 e “determinação” no art. 324), o Código atual permitiu que se desenvolvesse uma visão mais precisa quanto aos seus respectivos significados, que se
avizinham, mas não se confundem. Como aduzem Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “a certeza diz respeito à clareza do pedido. Ele deve ser inequívoco, inteligível. (…) Já a determinação refere-se aos limites daquilo que o autor pretende, demonstrando sua extensão”.2
Dito isso, o que mais importa é que permaneceu intacta a possibilidade de formular pedido genérico “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato” (art. 324, §1º, I do CPC). Sendo assim, não fosse a alteração quanto à definição do valor da causa, empreendida pelo referido art. 292 do CPC, a questão teria permanecido bastante fluida, permitindo-se que os promoventes mantivessem a postura de litigância sem ônus viabilizada pelo diploma anterior.
Contextualizando-se os dispositivos que tratam da certeza e da determinação do pedido e aquele que trata da definição do valor da causa, é de se concluir que o pedido de condenação em danos morais deixou de se enquadrar nas hipóteses que autorizavam o pedido genérico.
Obviamente, isso traz o inconveniente prático de ter o autor que mensurar, na formulação do pedido, um dano que encontra na abstração econômica a sua característica mais marcante. Por outro lado, a medida resolve, além da proposta de um sistema mais fechado a pretensões aventureiras, um outro inconveniente, ao permitir a definição objetiva da sucumbência. Um dos gargalos do sistema anterior era a possibilidade de se reconhecer a sucumbência do autor que via o seu pedido julgado procedente, sob a alegação de que o valor da condenação era inferior ao que considerava adequado. A sucumbência assumia, assim, um temerário viés subjetivo para o autor, que, mesmo vitorioso, mantinha interesse recursal.
No âmbito dos Tribunais de Justiça, o interesse recursal do autor que pretendia ver majorado o valor da condenação a título de danos morais era plenamente reconhecido3. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim se pronunciava sobre a questão: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que, em ação indenizatória por danos morais em que o valor é arbitrado pelo magistrado, existe interesse recursal do autor objetivando a majoração do quantum indenizatório”4. No entanto, o STJ, a fim de impor mais um filtro ao interesse recursal no âmbito do recurso especial, consolidou o entendimento no sentido de que a atuação daquele Tribunal Superior quanto à definição do quantum indenizatório restringia-se aos casos em que se identificassem valores ínfimos ou exagerados.
Some-se a isso o teor da Súmula nº 7, que impede o manejo de recurso especial para simples revisão de provas, muitas vezes aplicada seletivamente pelo STJ, e temos uma considerável barreira à atuação do STJ em matéria de quantificação da indenização por danos morais.
Com a exigência de definição da quantia pretendida a título de danos morais no pedido e no valor da causa, a sucumbência retomou a sua devida feição objetiva. Apenas por esses dois aspectos – a mudança de filosofia de litigância e a reobjetivação da sucumbência –, os ares trazidos pelo CPC em matéria de responsabilidade civil por danos morais representam avanço que não se deve ofuscar em razão da dificuldade prática de mensurar, ab initio, a extensão econômica da pretensão indenizatória.
Resumimos esse panorama ao seguinte: i) o sistema concebido pelo CPC/1973 possibilitava a formulação de pedido genérico de condenação em danos morais, minimizando os ônus da litigância para o autor da demanda; ii) isso despertou uma explosão de litigiosidade em matéria de danos morais que exigiu uma atuação enérgica do CPC, que buscou devolver o risco do litígio para o autor; iii) o sistema atual resolve, além da litigância sem limites, o problema da subjetivação da sucumbência.
Diante disso, passemos ao sistema de arbitramento da indenização por danos morais, com foco no desenvolvimento do chamado método bifásico.
O sistema de arbitramento da indenização por danos morais e o método bifásico
A reconhecida abstração econômica dos danos morais, ou, como preferem alguns autores, a sua extrapatrimonialidade, certamente coloca desafios aos litigantes e ao julgador. O principal deles é a ausência de parâmetros de quantificação, tanto para a formulação do pedido, quanto para a definição do quantum indenizatório na decisão condenatória, por parte do juiz.
O art. 944 do Código Civil diz-nos que
“a indenização mede pela extensão do dano”. Ou seja, na verdade, parâmetro há, mas ele pouco nos diz quando o assunto é dano moral. Assim, quando se trata de dano material a quantificação resolve-se matematicamente: todo o prejuízo demonstrado pelo autor será somado e resultará no quantum indenizatório. Mas a natureza do dano moral é incompatível com essa solução, e não há outra positivada que possamos utilizar.
É assim que se consagra o arbitramento judicial como mecanismo de quantificação do dano. O magistrado é responsável pela concretização econômica do dano moral, definindo a sua extensão. Segundo Carlos Alberto Bittar, que tem importante papel na histórica discussão em torno das funções da responsabilidade civil e dos critérios de arbitramento, deve-se confiar “à sensibilidade do magistrado a determinação da quantia devida”, e completa: “o contato com a realidade processual e com a realidade fática permite-lhe aferir o valor adequado à situação concreta”5.
De todo modo, o problema da ausência – ou pelo menos insuficiência – de parâmetros permanece. Assim, indaga-se: quais são os critérios de quantificação a serem utilizados pelo juiz?
De início, convém destacar que a Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, ou, simplesmente, Lei de Imprensa, estabelecia critérios de arbitramento da indenização por danos morais. Em seu art. 53, dispunha:
Art. 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em conta, notadamente:
I – a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido;
II – a intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou cível fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação;
III – a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou cível, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos previstos na lei e independentemente de intervenção judicial, e a extensão da reparação por esse meio obtida pelo ofendido.
Em 2009, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a incompatibilidade da Lei de Imprensa com a nova ordem constitucional instaurada em 1988. Aliás, mesmo antes disso, a jurisprudência brasileira havia se posicionado no sentido da não recepção de outros dispositivos do mesmo diploma que diziam respeito à indenização por danos morais: os arts. 51 e 52, que limitavam o valor da indenização, foram afastados pelo STF e pelo STJ, que chegou a editar a Súmula nº 281, reconhecendo que “a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”; e o art. 56, que impunha prazo de três meses para o exercício da pretensão indenizatória por dano moral6, foi também afastado pelo STF7.
Mesmo com a derrogação da Lei de Imprensa, o debate em torno dos critérios de arbitramento e da possibilidade de tarifação permaneceu vivo na cultura jurídica brasileira, entrando sempre em causa a chamada teoria do valor do desestímulo. A propósito, no mais recente episódio legislativo sobre o tema da tarifação, a reforma trabalhista reavivou o debate, ao incluir na Consolidação das Leis do Trabalho o art. 223-G, que em seu §1º limita o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, na expressão adotada pelo diploma, classificando as ofensas em quatro categorias: leves, médias, graves ou gravíssimas. Apesar de louvável a tentativa de construir solução concreta e prática para a ausência de critérios de arbitramento, o dispositivo em questão recebeu interpretação restritiva do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6050, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, na qual se deu interpretação conforme a Constituição para reconhecer, entre outros aspectos, que:
Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e §1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superior aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.8
No contexto atual, a resposta acerca dos critérios de quantificação passa necessariamente por uma análise das funções da responsabilidade civil, nomeadamente em sede de danos morais. Sem dúvidas, a função reparatória é o ponto de partida, mas, no contexto moderno, a sua hegemonia tem sido colocada em xeque. Nelson Rosenvald assevera que “a superação da função meramente reparatória da responsabilidade civil em favor de uma segunda função que também acentue aquela de desestímulo, isto é, de prevenção de danos, é tema de grande atualidade”9. Costuma-se inserir nessa ideia de desestímulo as funções preventiva e punitiva10.
Carlos Alberto Bittar destaca que “a tendência manifestada, a propósito, pela jurisprudência pátria, é a da fixação de valor de desestímulo como fator de inibição a novas práticas lesivas”11.
Sobre o tema, o STJ consolidou o seguinte entendimento:
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.12
Talvez o dogma da exclusiva função reparatória da responsabilidade civil possa – e até mereça – ser superado em razão das vicissitudes modernas, que levam o instituto da responsabilidade civil a um patamar de complexidade sem precedentes. No entanto, para que se possa cogitar de um sistema plurifuncional, o ponto de partida deve ser a reforma legislativa, na medida em que o atual sistema veda a ampliação da condenação para além da extensão do dano, mantendo-se firme no sistema matemático a que aludimos há pouco. Ademais, não se pode, aproveitando da abstração econômica do dano moral, empreender um sistema teórico e de quantificação completamente diverso daquele que se aplica ao dano material. Em última análise, moral ou material, é de dano que se trata. Um distanciamento entre as suas modalidades também teria que advir da lei. Por isso mesmo, recusamos, no atual sistema brasileiro de responsabilidade civil, a possibilidade de utilização de ideias como punitive damages e responsabilidade civil sem danos. De qualquer forma, essa discussão extrapola os breves limites do presente estudo.
A maior parte da doutrina e da jurisprudência orienta no sentido plurifuncional da indenização por danos morais, que deve nortear o arbitramento. Na esteira dessa discussão em torno de critérios e funções, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino concebeu em sua tese de doutorado o chamado método bifásico de valoração da indenização por danos morais. O autor explica o método nos seguintes termos:
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
(…)
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.13
O método, que se presta a viabilizar o arbitramento equitativo difundiu-se na jurisprudência brasileira, tendo inclusive se consolidado nas turmas da Seção de Direito Privado do STJ14.
Trata-se de um método que parte da jurisprudência para o caso concreto, o que se justifica em razão da falta de parâmetro econômico advindo do pedido genérico. Porém, há algumas dificuldades práticas em aplicá-lo, como por exemplo, a impossibilidade de se comparar valores absolutos fixados em datas diferentes. Ademais, como vimos, os ares processuais a que aludimos retiram de cena a possibilidade de pedido genérico de condenação em danos morais, recomendando-se que o método seja revisto. É a proposta que segue.
Proposta de inversão das etapas do método bifásico
Sem embargo das críticas que fizemos à plurifuncionalização da responsabilidade civil diante do nosso atual sistema positivo, é claro que, em razão da impossibilidade de se utilizar o método matemático imposto pelo art. 944 do Código Civil, o método bifásico é uma solução razoável para a peculiar realidade do dano moral.
Ocorre que o CPC trouxe à tona mais um elemento: o pedido certo e determinado. Se, no sistema processual anterior, os pedidos genéricos eram praxe, os tribunais passaram a lidar com pedidos certos e determinados, o que não pode ser negligenciado. Isso porque a determinação do pedido presta-se justamente a delimitar a atividade jurisdicional, impondo balizas ao resultado da lide. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini aduzem que “a certeza e a determinação do pedido são necessárias não apenas porque a jurisdição não pode atuar sobre meras cogitações hipotéticas ou ilações teóricas, mas também para a exata e precisa fixação do objeto litigioso”15. Sob esse aspecto, certeza e determinação assumem uma feição de segurança jurídico-processual. E é exatamente por isso que o ponto de partida do provimento jurisdicional deve ser o pedido do autor.
Apesar de ser, para o autor, difícil mensurar a extensão da sua pretensão indenizatória, o que fez com que se rendessem críticas ao atual modelo, a doutrina tem reconhecido que a opção do CPC foi acertada, principalmente do ponto de vista da política judiciária, que precisava reverter o quadro de litigância desenfreada sobre o qual falamos. Ademais, entre os sujeitos da relação processual, o autor da demanda, na condição de titular do direito da personalidade violado, é aquele que tem melhores condições para mensurar o valor que lhe parece satisfatório16.
Como consequência do modelo atual, parece-nos que a quantificação não pode partir da jurisprudência, mas da pretensão autoral, levando-se a análise de precedentes para um segundo momento. Propomos, assim, uma inversão das etapas do método bifásico.
A primeira etapa passa a ser a análise de compatibilidade entre o valor pleiteado e a violação em si, com todas as suas circunstâncias concretas. Em seguida, o valor-base deve ser confrontado com precedentes e, se necessário, reduzido ou majorado – neste caso, até o limite do pedido –, de modo a obter-se a desejável uniformidade jurisprudencial. De todo modo, a adequação realizada na segunda etapa deve empreender um verdadeiro confronto entre o precedente e o caso concreto, sob pena de carecer a decisão de fundamentação. É dizer: ao reduzir ou majorar a indenização o magistrado deve demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta ao precedente invocado, a teor do art. 489, §1º, V, do CPC. Da mesma forma, na segunda fase, se o magistrado se afastar do precedente, mantendo o valor-base em razão das peculiaridades do caso sub judice, deverá demonstrar a existência de distinção fática ou de superação do entendimento, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.
Há, ainda, um último aspecto a ser atendido quando da aplicação do método bifásico, considerando a inversão de etapas aqui proposta: nem na fixação do valor-base, realizada na primeira etapa, nem na adequação à jurisprudência, realizada na segunda etapa, poderá o magistrado extrapolar o valor pretendido pelo autor.
Temos, assim, algumas possibilidades. Considere-se que o autor pleiteou R$10.000,00 a título de danos morais e que o magistrado, na primeira etapa, reconheceu a compatibilidade do valor às circunstâncias do caso sob julgamento, fixando como valor-base os R$10.000,00 pretendidos. Na segunda etapa, se o magistrado identificar precedente invocável, poderá reduzir o valor, mas não o majorar, em respeito ao fundamento ne ultra petita, que se impõe justamente pelas razões de segurança jurídico-processual acima delineadas. Sendo assim, de nada adianta identificar julgado idêntico ao caso sob julgamento em que se tenha arbitrado o valor de R$15.000,00, uma vez que o magistrado estará limitado ao valor do pedido.
Por outro lado, se, na primeira etapa, o magistrado fixar valor-base em R$5.000,00, identificando julgado invocável, poderá reduzir ou majorar a indenização. Nesse último caso, de majoração, está igualmente limitado pelo valor do pedido, ainda que identifique precedente invocável em que se tenha arbitrado valor superior. Logicamente, se o magistrado não identificar precedente invocável, deverá manter o valor-base fixado na primeira etapa do método.
A razão de ser da proposta de inversão de etapas é, por um lado, enfatizar, na primeira etapa, a função do pedido na sistemática da responsabilidade civil por danos morais, bem como a necessidade de que o ponto de partida da quantificação esteja concentrado no caso sob julgamento e não em precedentes invocáveis, obtendo-se ganhos em termos de equidade, no sentido de justiça do caso concreto. Por outro lado, presta-se a garantir, na segunda etapa, a uniformidade jurisprudencial que o sistema de precedentes instaurado pelo CPC visa atingir. Bem manejado, o método tem potencial para contornar o grande desafio de concretizar economicamente a pretensão a título de danos morais, de que tem se ocupado a comunidade jurídica há bastante tempo.
Referências bibliográficas
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Salvador: Juspodivm, 2013.
FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017.
ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017.
ROSENVALD, Novo tratado de responsabilidade civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017.
SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral: indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI; Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional. v. 2. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
- AgRg no Ag 617931/RJ. Terceira Turma. Relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA). Julgado em 15/09/2009. ↩︎
- Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional. v. 2. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 88-89. ↩︎
- Apenas a título exemplificativo: “o pedido genérico de indenização por dano moral não exclui a possibilidade do autor recorrer da decisão que julga procedente a demanda, com o objetivo de obter a majoração do quantum indenizatório” (TJRS, Apelação Cível nº 70040223794). ↩︎
- AgRg no REsp 605255/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Denise Arruda. Julgado em 15/12/2006. ↩︎
- Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, p. 284. ↩︎
- Prazo, aliás, de natureza prescricional, ao contrário do teor do dispositivo, que o considerava decadencial. [1] Cfr., entre outros, o Recurso Extraordinário nº 396.386, Segunda Turma, Relator Ministro Carlos Velloso, julgado em 29/06/2004. ↩︎
- ADI nº 6050/DF, rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 26/06/2023. ↩︎
- Nelson Rosenvald, As funções da responsabilidade civil, p. 128. ↩︎
- O STJ se refere a uma função pedagógico-punitiva. Cfr., por exemplo, o AgRg no AREsp 595676/MG. Quarta Turma. Relator Ministro Marco Buzzi. Julgado em 09/06/2015. ↩︎
- Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, p. 283. ↩︎
- REsp nº 1.440.721/GO, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti. Julgado em 11/10/2016. ↩︎
- Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Princípio da Reparação Integral: indenização no Código Civil, p. 288-289. ↩︎
- Cfr., por exemplo: REsp. 959780/ES, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Julgado em 26/04/2011; e REsp. 1669680, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 20/06/2017. ↩︎
- Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, Curso Avançado de Processo Civil, v. 2, p. 89. ↩︎
- Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald: “sendo o dano moral uma violação que alcança a dignidade humana, ninguém melhor do que o próprio ofendido para avaliar a intensidade da lesão à sua subjetividade, sendo um contrassenso relegar essa tarefa a um juiz de direito”. (Novo Tratado de Responsabilidade Civil, p. 401) e Fredie Didier Júnior: “quem além do próprio autor, poderia quantificar a ‘dor moral’ que alega ter sofrido? Como um sujeito estranho e por isto mesmo alheio a esta ‘dor’ poderia aferir a sua existência, mensurar e quantificá-la em pecúnia?” (Curso de Direito Processual Civil, v. 1, p. 441). ↩︎