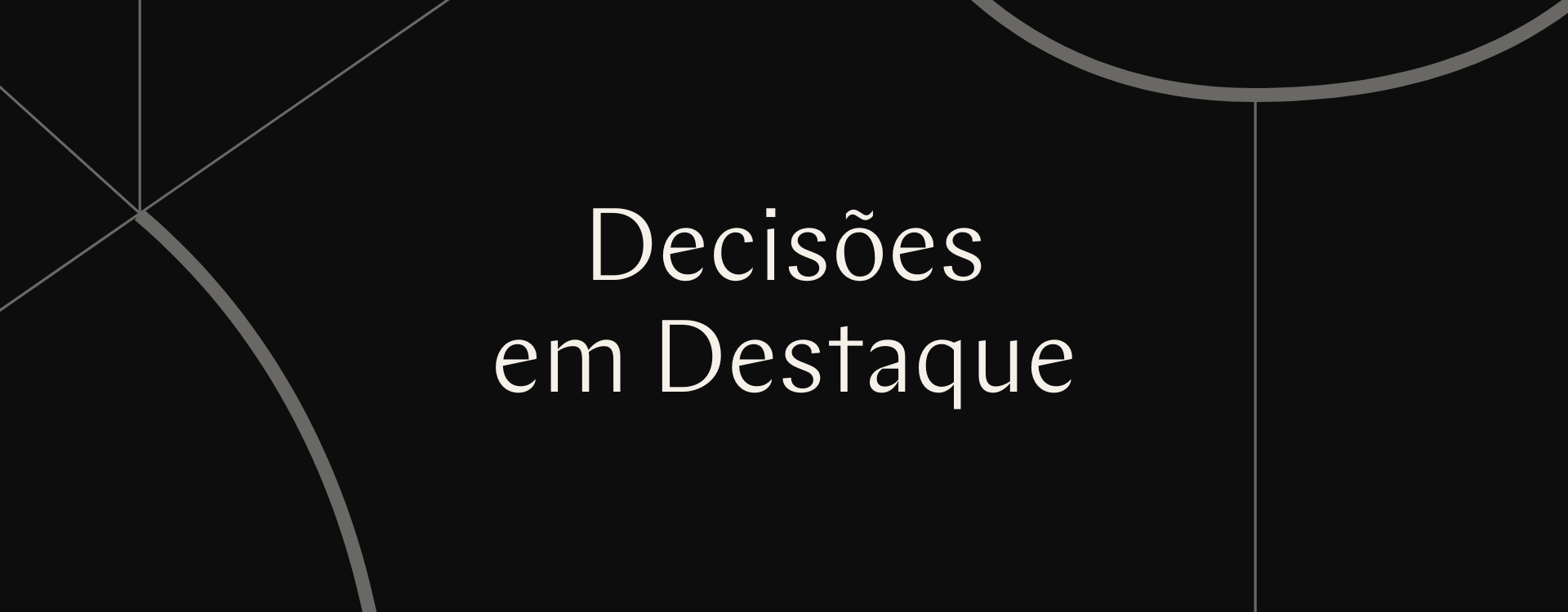Nos últimos anos, o cenário jurídico brasileiro tem enfrentado desafios crescentes relacionados à necessidade de lidar com conflitos que envolvem violações de direitos em larga escala e impactos sociais profundos. Litígios de grande complexidade, que ultrapassam as disputas individualizadas entre partes e dizem respeito a estruturas institucionais e políticas públicas, têm se tornado cada vez mais frequentes, exigindo respostas inovadoras do Poder Judiciário.
Nesse contexto, emerge o conceito de processo estrutural, um instrumento jurídico voltado à reestruturação de situações de desconformidade sistêmica, seja em órgãos públicos, organizações privadas ou políticas sociais. Os litígios estruturais destacam-se por promover um afastamento das premissas clássicas do processo civil, caracterizadas por decisões binárias e de execução imediata, em favor de uma abordagem mais flexível, dialógica e cooperativa. Essa mudança é impulsionada por demandas que exigem soluções complexas e articuladas, envolvendo múltiplos interesses e afetando diferentes grupos sociais.
O presente artigo, com base nesse contexto, tem como objetivo explorar o conceito de processo estrutural, abordando suas características e a relevância de uma participação ativa e representativa de todos os grupos afetados.
Historicidade dos processos estruturais
Antes de adentrar nas particularidades do processo estrutural, que justificam a necessidade de um diálogo amplo entre todos os sujeitos processuais para a obtenção de uma tutela jurisdicional mais adequada e efetiva, é fundamental apresentar, ainda que de forma sucinta, sua historicidade. Essa análise inicial visa expor os motivos pelos quais o processo estrutural é considerado uma categoria de natureza singular, exigindo dos estudiosos uma mudança de perspectiva em relação ao individualismo tradicionalmente adotado no processo civil.
O julgamento do caso Brown v. Board of Education of Topeka, considerado o leading case das ações estruturais, teve origem na intenção de questionar o regime de segregação racial nos Estados Unidos, caracterizado pela discriminação legal e social que separava pessoas brancas e negras em espaços públicos e privados.
Até então a Suprema Corte dos Estados Unidos interpretava que a Décima Quarta Emenda da Constituição, que assegura igualdade de direitos a todos os nascidos ou naturalizados no país, não era violada pela segregação racial, desde que serviços públicos de qualidade equivalente fossem ofertados a ambos os grupos raciais. Essa visão sustentava a doutrina do separate but equal1, permitindo a manutenção de instalações e serviços segregados.
Em 17 de maio de 1954, revisando esse entendimento, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o caso Brown v. Board of Education, reconhecendo pela primeira vez a inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas primárias. A Corte entendeu que instituições educacionais segregadas são, por natureza, desiguais, ainda que, teoricamente, os serviços ofertados fossem equivalentes.
Após a decisão no caso Brown I, que reconheceu a inconstitucionalidade da segregação racial, a Suprema Corte remeteu os processos pendentes aos tribunais estaduais, delegando-lhes a responsabilidade de adotar as providências necessárias para a execução da decisão. O objetivo era garantir o acesso das crianças negras a escolas públicas não segregadas, sem, contudo, estabelecer ordens específicas para a reestruturação do sistema educacional.
Nesse contexto, pode-se afirmar que o caso Brown I não originou, por si só, os processos estruturais, mas sim a resposta dada pelos tribunais locais em todo o país, conhecida como Brown II, que buscou implementar a decisão da Suprema Corte de forma prática e efetiva.
A singularidade do caso Brown evidencia a natureza distinta do processo estrutural, que exige dos sujeitos processuais um tratamento diferenciado em relação ao processo binário clássico, priorizando uma abordagem integrada e flexível para lidar com situações de desconformidade sistêmica.
O próximo capítulo deste trabalho abordará precisamente essas circunstâncias, com o objetivo de esclarecer as razões pelas quais o processo estrutural não pode ser analisado exclusivamente à luz das premissas e dos institutos tradicionalmente aplicados pela doutrina e pela jurisprudência no âmbito do processo civil clássico, ainda que este apresente um viés coletivo.
Particularidades do processo estrutural
Litígios estruturais são litígios coletivos irradiados, cujo objeto consiste na apuração de uma violação sistêmica praticada por uma estrutura burocrática, seja ela pública ou privada, que exerce influência em diversas camadas da sociedade.
Esses litígios se caracterizam pela capacidade da violação atingir os interesses de diferentes subgrupos sociais, com intensidades e formas variadas2. Por essa razão, em virtude dos múltiplos centros de interesse e do elevado número de pessoas afetadas — cada uma com perspectivas e necessidades distintas —, os litígios estruturais possuem uma natureza policêntrica, não se enquadrando nos conceitos tradicionalmente aplicáveis ao processo civil clássico3.
Considerando essa natureza policêntrica, os litígios estruturais tendem a gerar uma elevada conflituosidade entre as partes envolvidas, pois cada uma delas pode buscar uma solução distinta para o litígio, evidenciando a existência de interesses antagônicos4.
Essa característica possibilita uma diversidade de soluções para a demanda estrutural, uma vez que os múltiplos centros de interesse e as diferentes necessidades das partes exigem respostas que acomodem ou mitiguem tais conflitos de maneira adequada. Assim, ao contrário dos litígios tradicionais, em que se busca uma solução binária e objetiva, os litígios estruturais demandam uma abordagem mais flexível e multifacetada, capaz de atender às particularidades de cada grupo afetado.
Por essa razão, diferentemente do que ocorre em um processo tradicional, no qual o juiz atua de maneira estritamente vinculada ao pedido inicial, conforme prevê o princípio da congruência, nos litígios estruturais o magistrado deve adotar uma postura diferenciada, permitindo uma interpretação ampliada do objeto da relação jurídica processual, sempre que necessário5.
Essa atuação mais abrangente mostra-se especialmente relevante tanto na fase inicial de cognição quanto, de forma ainda mais significativa, na fase de implementação da decisão que reconhece a inconstitucionalidade da situação questionada. Essa abordagem permite ao magistrado lidar com maior eficácia com a complexidade e diversidade de interesses envolvidos, assegurando a efetividade das decisões e viabilizando as reformas indispensáveis para a reestruturação da instituição burocrática em questão.
Ademais, a construção de uma nova realidade institucional exige uma atividade processual complexa, orientada por uma decisão inicial que estabelece uma “norma-princípio” e regulamentada por decisões subsequentes que criam “normas-regra”, num processo contínuo e prospectivo6.
Além disso, diferentemente da resolução tradicional de conflitos, a intervenção jurisdicional nos litígios estruturais assume um caráter necessariamente contínuo. O provimento judicial não se esgota de forma imediata, demandando supervisão constante e ajustes periódicos. Em outras palavras, a execução da sentença pode adquirir uma configuração institucional, sujeita a monitoramento regular e revisões, conforme as particularidades e circunstâncias do caso concreto7.
Essa configuração exige que a atuação do Poder Judiciário adote uma abordagem dialógica ampliada, voltada para a construção de consensos. Dada a complexidade da tutela pretendida, associada ao elevado impacto social e à interseção com diversos valores coletivos, torna-se indispensável que os próprios interessados participem ativamente tanto na formação do provimento quanto em seu constante aperfeiçoamento. Dessa forma, o processo estrutural deixa de ser uma imposição unilateral, transformando-se em um espaço de negociações e debates prospectivos, com o objetivo de construir uma regulação mais equilibrada e adequada às necessidades do caso concreto.
Nesse contexto, é fundamental assegurar uma representação adequada de todos os grupos diretamente afetados pelo objeto do processo estrutural, garantindo sua participação ativa. Tal medida é essencial para viabilizar soluções mais eficazes e legítimas, considerando a diversidade de perspectivas que podem contribuir para a resolução do problema identificado.
Por essas razões, entende-se, neste trabalho, que um ponto crucial a ser garantido pelo futuro projeto de lei do processo estrutural é a participação adequada de todos os grupos diretamente afetados pelo litígio. Conforme exposto, a ausência de representação legítima de todos os subgrupos interessados pode comprometer não apenas a legitimidade da decisão judicial, mas também a sua efetiva implementação.
Essa perspectiva parece estar inicialmente contemplada em proposta futura, com base nas informações constantes do texto final do anteprojeto da Lei de Processo Estrutural, elaborado e apresentado pela Comissão de Juristas responsável por sua redação ao final de outubro de 2024.
Anteprojeto de lei do processo estrutural
Conforme exposto logo no início da exposição de motivos, a Comissão de Juristas esclarece que o texto legal tem como objetivo estabelecer técnicas processuais adequadas à tramitação dos processos estruturais no Brasil. Isso se deve à constatação de que as regras do microssistema coletivo seriam insuficientes para atender plenamente às demandas dessa natureza, como os casos das barragens de Mariana ou Brumadinho, considerando a complexidade de seu objeto e a multiplicidade de interesses envolvidos.
Essa impressão de mudança é justificada logo na sequência da referida exposição de motivos, que menciona três vertentes essenciais para a adequada tutela de um processo estrutural. Essas vertentes incluem: a construção compartilhada de soluções para litígios complexos; a ampliação do contraditório, com maior participação dos grupos impactados pelo dano objeto de cada processo; e a necessidade de uma atuação gradual, prospectiva e duradoura por parte do Poder Judiciário, de modo a assegurar a segurança jurídica para todos os envolvidos.
Com base nessa justificativa, o art. 1º do anteprojeto define que a lei tem como objetivo disciplinar as ações civis públicas destinadas a lidar com problemas estruturais. Esses problemas são definidos, no § 1º, como aqueles que não permitem uma solução adequada apenas com o uso das técnicas clássicas aplicáveis aos processos individuais ou coletivos, em razão de suas características específicas, como a multipolaridade, o impacto social efetivo, a prospectividade, a natureza duradoura das intervenções, a complexidade da situação e, especialmente, a necessidade de intervenção na burocracia de instituições públicas e privadas.
Diante dessas singularidades, o art. 2º do anteprojeto prevê as normas fundamentais do processo estrutural, destacando aspectos essenciais como: a importância de que os litígios estruturais sejam resolvidos preferencialmente por meio da consensualidade; a necessidade de que a tutela jurisdicional pretendida seja adequada às capacidades institucionais e às atribuições dos poderes envolvidos; o diálogo permanente entre todos os sujeitos processuais, com vistas à construção de um contraditório efetivo e à busca de uma solução plural e equilibrada; e a ampla publicidade e transparência das medidas adotadas nesses processos.
Adicionalmente, o dispositivo ressalta que tais medidas devem levar em consideração os impactos orçamentários decorrentes das intervenções propostas. Destaca-se ainda a importância de garantir flexibilidade no procedimento, com ênfase em medidas prospectivas. Para tanto, propõe-se a elaboração de planos que contemplem objeto, metas, indicadores e cronogramas definidos, de forma a viabilizar a implementação em prazo razoável e alcançar a efetiva reestruturação do problema estrutural identificado.
No que se refere à estruturação do processo estrutural, o anteprojeto estabelece que o autor deve indicar, na petição inicial, o caráter estrutural do litígio, apresentando de forma expressa a descrição do caso. Ao receber essa petição inicial, o juiz não poderá extinguir o processo por defeito de legitimidade ou capacidade processual da parte autora sem antes oportunizar a outro colegitimado a assunção da demanda.
O mesmo raciocínio aplica-se às partes que compõem o polo passivo, cabendo ao juiz determinar a correção ou integração do polo com todos os sujeitos que sejam verdadeiramente interessados ou que possam ter responsabilidade na atuação estrutural pretendida.
Outro aspecto de grande relevância no procedimento do processo estrutural é o reconhecimento de seu caráter tanto por decisão judicial quanto por consensualidade. Essa cooperação permeia todos os atos do processo estrutural, exigindo a realização de etapas fundamentais como reuniões, consultas técnicas, audiências públicas, audiência de saneamento e organização compartilhada do processo.
Além disso, prevê-se a intimação de pessoas com contribuições técnicas relevantes ou com poder decisório sobre as questões controvertidas, bem como a adoção de medidas de cooperação judiciária e interinstitucional envolvendo sujeitos que possam auxiliar na solução do litígio. Essa abordagem evidencia a natureza participativa e colaborativa do processo estrutural, essencial para lidar com a complexidade de seu objeto.
Por fim, o anteprojeto estabelece que o processo estrutural deve, prioritariamente, buscar a construção de consensos entre as partes e os demais interessados, com o objetivo de redigir um plano de atuação estrutural amplo e adequado às necessidades do caso.
Conclusão
O presente artigo buscou explorar o conceito de processo estrutural, suas características distintivas e a importância da participação de todos os grupos afetados na construção de soluções efetivas e legitimadas. Ao longo dos capítulos, foi demonstrado que esse modelo processual apresenta uma abordagem inovadora e indispensável para a reestruturação de situações de desconformidade sistêmica, abrangendo litígios de grande complexidade e elevado impacto social.
A investigação das principais características do processo estrutural evidenciou que a adoção de estratégias flexíveis e a cooperação entre todos os envolvidos são elementos centrais para garantir a efetividade das decisões judiciais. O caráter policêntrico e a necessidade de um programa de reestruturação progressiva reforçam a demanda por soluções dinâmicas e ajustáveis, orientadas para a construção de uma nova realidade institucional.
A análise do anteprojeto de lei do processo estrutural no Brasil permitiu identificar os desafios e as potencialidades da regulamentação desse modelo em nosso sistema jurídico. A ênfase no diálogo, na cooperação e na representação adequada dos grupos afetados demonstra uma preocupação do legislador em construir um processo mais inclusivo e democrático, capaz de enfrentar os litígios de maior complexidade e abrangência social.
Assim, conclui-se, neste momento, que o processo estrutural se apresenta como uma resposta viável e promissora para os conflitos de natureza sistêmica, ao propor soluções duradouras e equilibradas, pautadas no diálogo e na cooperação entre todos os sujeitos processuais.
A participação ativa e representativa dos grupos impactados não apenas legitima as decisões judiciais, mas também assegura sua efetiva implementação, promovendo a justiça e a concretização dos direitos fundamentais. A partir dessa perspectiva, espera-se que a Lei do Processo Estrutural contribua para consolidar esse modelo no ordenamento jurídico brasileiro, garantindo uma tutela jurisdicional mais adequada às demandas contemporâneas.
- GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira; (UFRRJ/CNPQ), Grupo de Pesquisa Processo Civil e Desenvolvimento. Processos estruturais. Objeto, normatividade e sua aptidão para o desenvolvimento. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix; OSNA, Gustavo. Processos estruturais. 5. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. Cap. 12. p. 255-278. ↩︎
- VITORELLI, Edilson. Processo Civil Estrutural: teoria e prática, p. 67-70. ↩︎
- Idem, p. 70. ↩︎
- VOGT, Fernanda Costa; PEREIRA, Lara Dourado Mapurunga. Novas técnicas decisórias nos processos estruturais. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix; OSNA, Gustavo (org.). Processos estruturais. 6. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. Cap. 22. p. 498-517. ↩︎
- MENEGAT, Fernando. Processo estrutural no controle de casos complexos envolvendo a administração pública: delimitando o escopo de incidência do “método estrutural” no direito administrativo brasileiro. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix; OSNA, Gustavo. Processos estruturais. 6. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. Cap. 23. p. 518-549. ↩︎
- LAMÊGO, Gustavo Cavalcanti. Técnicas de cooperação judiciária nacional aplicadas a processos estruturais. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix; OSNA, Gustavo. Processos estruturais. 6. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. Cap. 28. p. 622-644. ↩︎
- OSNA, Gustavo et al. Nem “tudo”, nem “nada” – decisões estruturais e efeitos jurisdicionais complexos. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix; OSNA, Gustavo. Processos estruturais. 5. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. Cap. 29. p. 645-666. ↩︎